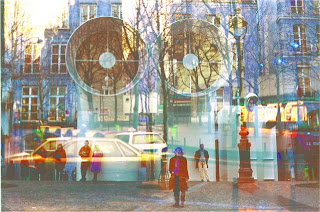segunda-feira, 8 de dezembro de 2008
Postagem dos artigos
Bom, primeiramente entrem no site (www.mediafire.com), e bem grande tem um link com "upload files to mediafire". Cliquem lá e depois em "i want to upload without an account". Vai aparecer o local para vocês procurar o arquivo. Clique nele e depois em "start upload", no canto direito, e em seguida em "upload in a new folder". Aí ele vai carregar, até aparecer upload complete. A página que vai ser compartilhada vai aparecer numa caixinha branca ("sharing URL"). Aí, vocês copiam o endereço e postem aqui. O meu, por exemplo, é o http://www.mediafire.com/?sharekey=41bbb5ce6d1698bd91b20cc0d07ba4d22c92f281c5e82387.
Pra fazer o download do documento, é só entrar no endereço, clicar no arquivo que a pessoa postou - o meu é "O Parkour", e depois em "click here to start download".
Espero que dê pra entender. Qualquer dúvida é só me perguntar...
Valeu, galera. Abraços!
Ana Cláudia Paschoal
terça-feira, 2 de dezembro de 2008
Uma boa notícia
Venho compartilhar uma boa notícia: o jornal de poesia e literatura de que eu faço parte, o A Parada, foi aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A gente já tinha conseguido o benefício em 2006 e agora vamos poder dar continuidade ao trabalho.
Quem quiser saber mais pode entrar no blog: a-parada.blogspot.com
Aproveitando a deixa:
Na última aula, quando fizemos uma avaliação da disciplina, tive de sair de sala e, quando voltei, já havia passado aquela parte de dizer quais foram nossas expectativas iniciais sobre a matéria e de fazer um balanço. Mesmo atrasada, gostaria de dizer que me matriculei na disciplina muito por causa desse projeto de que faço parte, o jornal A Parada. Queria tentar relacionar essa vivência que eu tenho, de produzir uma publicação de poesia, aberta a diversas linguagens, com o curso que estou fazendo (que muitas vezes cai naquele operacionismo de cada profissão - jornalismo, publicidade, etc). Nesse sentido, foi ótimo vocês, Daniela e Milene, terem trazido para a disciplina conteúdos que não fossem exclusivamente da comunicação, foi muito enriquecedor. E tentei (embora o tempo tenha sido feroz comigo), no artigo final, materializar essa relação.
Confesso que no início fiquei bastante ansiosa, enquanto líamos autores falando, por exemplo, sobre a interculturalidade no México. Queria trazer logo os estudos para mais perto, no sentido temporal e no espacial. Mas, ao longo da disciplina, consegui perceber esse movimento de aproximação, que culminou no final, com os seminários, que tratavam de assuntos bem contemporâneos, de práticas realizadas em São Paulo, no Rio e, para a minha alegria, em BH.
É isso, gente. Se animarem de levar esse blog a um próximo estágio (seja em revista, livro, o que for), podem contar comigo.
segunda-feira, 1 de dezembro de 2008
O Hibridismo no reggaeton
Vanessa Veiga
A relação entre processos comunicativos e práticas culturais urbanas foi o eixo condutor das discussões realizadas durante todo o semestre durante as aulas de Comunicação e Culturas Urbanas. Discussões que se aproximam do nosso cotidiano e que demonstraram e provaram que conceitos, teorias, fundamentos, enfim, um mundo acadêmico não está longe da vida prática – muito pelo contrário. De tal modo, era quase inevitável a insurgência de exemplos, casos, histórias que se ligavam imediatamente ao que observávamos nos textos e que fazia tudo se tornar ainda mais claro e brilhante. Foi assim quando nos lembramos da camisa do Che, ao falar da reapropriação a cultura, ao ato de devolver um prato emprestado por meio de “bolo de ovo”, para apreender a ligação entre cultura e sociedade, e ainda, a patrimonialização do queijo do Serro para entender a mediação da institucionalidade proposta por Martín-Barbero.
Da mesma forma esse texto – que é quase uma “reterritorialização” do artigo que desenvolvi para a disciplina – trata de um exemplo pensado para o conceito de hibridismo, proposto por Canclini. O texto pretende apresentar o estilo musical “reggaeton”, mostrando como suas peculiaridades que se relacionam ao conceito, e ainda, pensando também na discussão da diáspora cultural pensada por Stuart Hall.
Pois bem, e o que é o reggaeton? Para quem não conhece, esse estilo musical faz sucesso em países latino-americanos e em redutos latinos nos EUA. É um gênero recente, sendo que muitos afirmam que ele surgiu em 1992/93 em Porto Rico e no Panamá. E o reggaeton não é só um tipo de música. Como toda manifestação cultural, ele se apresenta dentro de um contexto complexo. Assim, para os fãs de reggaeton, há todo um modo de vestir, de falar, de comportar, de dançar. Ao assistir alguns videoclipes de artistas do reggaeton, perceber as características da composição desse estilo musical que se relacionam ao hibridismo será mais fácil.
Daddy Yankee – Gasolina Daddy Yankee – Rompe
Don Omar – pobre diabla Don Omar – Dile Mix de videoclipes de reggaeton
E o que é hibridismo?
Segundo Canclini, o hibridismo são “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (1997, p.19).
A combinação de práticas culturais diferentes cria então essas novas possibilidades. Considerando o contexto urbano – ao qual pertence o reggaeton, como será explicado posteriormente - essas possibilidades se multiplicam, uma vez que os grandes centros oferecem o contato com a heterogeneidade, e a interação com tal diversidade que inevitavelmente afeta a construção de novas redes de valores e significados. Mas uma ressalva deve ser feita: esse movimento de apropriação, criação, reterritorialização deve ser entendido com cautela. A hibridação, se analisada somente para os aspectos de fusão, perde seu sentido. O olhar do observador não pode se restringir às superposições que são feitas, mas precisa considerar que essas relações fazem parte e também constroem relações de poder e questões de identidade. As perguntas por identidade, pela soberania nacional não desaparecem com o hibridismo, pelo contrário. Permanecem os conflitos e repensa-se a autonomia de cada cultura.
Para o caso da música – especialmente a latina-americana – o cuidado com o entendimento de hibridismo deve ser ainda maior. É preciso lembrar que existe toda a globalização, o interesse capitalista e o forte investimento / poder da indústria fonográfica atrás daquilo que poderia ser um hibridismo “espontâneo”.
“Inclino-me a chamar fusões a essas hibridações, já que esta palavra, usada preferencialmente em música, emblematiza o papel proeminente dos acordos entre industrias fonográficas transnacionais, o lugar de Miami como capital da cultura latino-americana’(Yudice, 1999) e a interação das Américas no consumo intercultural”(Canclini, 2003, p.32)
Stuart Hall ao discutir as relações culturais diásporicas acaba por contribuir às reflexões sobre o hibridismo. Após a própria experiência do autor em ser um jamaicano fora de sua terra de origem ele discute como as diferenças que entram em contato após a experiência da diáspora, do deslocamento. Para Hall,
“Na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas.” (Hall, 2003, p.27)
“(...) o que a experiência da diáspora causa a nossos modelos de identidade cultural? Como podemos conceber ou imaginar a identidade, a diferença e o pertencimento, após a diáspora? Já que ‘a identidade cultural’carrega consigo tantos de unidade essencial, unicidade primordial, indivisibilidade e mesmice, como devemos ‘pensar’as identidades inscritas nas relações de poder, construídas pela diferença, e disjuntura?” (Hall, 2003, p.28)
“Um termo que tem sido utilizado para caracterizar as culturas cada vez mais mistas e diásporicas dessas comunidades é ‘hibridismo’. Contudo, seu sentido tem sido comumente mal interpretado. Hibridismo não é uma referencia à composição racial mista de uma população. (...) O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados com os ‘tradicionais’e ‘modernos’como sujeitos plenamente formados. Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecibilidade.”(Hall, 2003, p.71)
De tal forma, percebemos em Hall que o conceito de hibridização, levando em conta o viés da diáspora sob o qual o autor trabalha, é pensado dentro da lógica cultural da tradução e que se torna proeminente em sociedades multiculturais.
E o exemplo?
Como falei no início nesse texto, acredito que o reggaeton pode ser uma forma concreta de se perceber o hibridismo. Ainda que considerando a ressalva feita por Canclini ao pensar o hibridação dentro da música latino-americana – e de fato, a indústria fonográfica é um fator de peso que deve ser levado em consideração – a origem e a apresentação desse estilo musical revela a fusão de culturas que produzem uma nova manifestação cultural. Ainda é possível perceber essa reterritorialização é afetada pela sociedade multicultural em que o gênero surgiu.
O reggaeton é uma combinação dos estilos “reggae” e “hip hop”, tendo ainda a importante influência “da salsa” e da “bomba”. As músicas são cantadas sobretudo em espanhol, tendo algumas inserções de palavras em inglês, combinação que é chamada de “spanglish”. Uma característica importante do reggaeton é a voz estridente dos cantores, característico da música caribenha. As vozes são distorcidas eletronicamente –os DJ’s são muito importante para o reggaeton por realizarem a mesclagem dos estilos musicais. Mais do que um tipo de música, o reggaeton carrega consigo símbolos de um tipo de vida. Na moda, os homens usam calças largas, baixas, camisas folgadas, o boné para trás e correntes/ cordões no pescoço. As roupas são de marca, com o logotipo grande. Eles também usam uniformes de times de futebol e de basquete americanos, além do uso de mochilas. Essa moda é a mesma do hip hop, em que se baseia o reggaeton. Para as mulheres, sandálias de salto alto, mini-saias, calças justas e blusas curtas. Nos videoclipes as temáticas abordadas são semelhantes ao do hip hop. Há exibição do poder material, como carros e casas de luxo, e ainda, mulheres sensuais e bonitas dançando. Os cantores de reggaeton normalmente cantam em grupo, ou ao menos, se apresentam nos videoclipes em bandos. O cenário pode variar entre o universo rico esbanjado pelo poder material, a vilas e regiões pobres de cidades latinas americanas. Quanto a dança, as músicas de reggaeton privilegiam movimentos ligados a danças latinas, a valorização do ‘rebolado’, e, ainda, a presença de passos de ‘street dance’, dança que ficou famosa pelo hip hop, que, no entanto, se originou na Jamaica.
De tal forma é possível apreender a superposição de diferentes manifestações culturais que resultam em uma composiçao nova, que é o reggaeton. Por vezes, chega a ser dificil identificar o que é originário do hip hop americano, o que é do reggae jamaicano, o que é comum a identidade latina-americana. Ao assitir os videoclipes e analisa-los essa dificuldade se mostra mais gritante, pois ainda que de alguma forma está fixado o signo de identificação do reggaeton como um ritmo caribenho, por outro lado, suas características norte-americanas são explicítas.
TEXTOS BASES:
* Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. Néstor Canclini. Edusp. São Paulo:1997.
* Da Diáspora: identidades e Mediações Culturais. Stuart Hall. Editora UFMG. Belo Horizonte: 2003
Olhe por onde você anda
Vanessa Veiga
No dia 2 de outubro todos os alunos da disciplina Comunicação e Culturas Urbanas se reuniram para realizar a deriva no hipercentro de Belo Horizonte. Ainda que a data esteja bem marcada no calendário, a atividade da deriva começou bem antes disso. Desde os textos que discutimos na aula, a confecção do trajeto, ao caminho do ônibus que se dirigia para a Praça Sete, ponto onde marcamos de nos encontrar.
Quando começamos o trajeto, muitos não tinham pensado no que observar durante o caminho. Eu tentei me precaver e no ônibus fui articulando hipóteses do que poderia encontrar na deriva. À princípio pensei em observar duas coisas: a situação dos prédios no hipercentro ou então o comportamento dos transeuntes. Tudo caiu por água abaixo, ou melhor, calçada abaixo. A explicação é fácil. Tenho uma relação muito complicada com o centro de BH. Mesmo sendo Belorizontina, não acho o centro “lá grandes coisas”, ao contrário da minha irmã que idolatra o lugar e é incapaz de se perder nele. Eu, por outro lado, mesmo vivendo há 20 anos nessa cidade e sempre indo ao centro (onde se encontra os principais serviços públicos que precisamos, como hospitais) posso me perder assim que desço no ponto de ônibus. Desde pequena alimento um imaginário de que o centro é um lugar cheio de pessoas, de pessoas estranhas, cheio de tumulto, de barulho, de sujeira. Destaque para a sujeira. Durante a deriva meus sentidos se perderam na imensidão e na confusão do centro e de repente me encontrei no lugar de sempre: observando a sujeira das calçadas. Um misto da imagem de minha infância com o jeito manuelística* de ser que não me deixa.
Pois bem, e qual era o cenário do centro no dia 2 de outubro? A rotina era de uma quinta-feira comum, mas faltavam apenas 3 dias para as eleições municipais. Algumas obras eram realizadas em passeios na avenida Afonso Pena com a rua Tupinambás.
O MAPA DAS CALÇADAS
De onde saímos, a Praça Sete, o lugar era inexplicavelmente limpo (a praça é um dos pontos mais movimentados de toda a cidade. O fluxo de carros e pessoas é grande, assim como a quantidade de estabelecimentos comerciais). Demonstração do tanto que a revitalização do lugar é forte. Descemos em direção a rua Tupinambás, passamos em um trecho com obras no passeio. A poeira era inevitável. Ao entrar na rua Tupinambás, as sombras das árvores montavam um cenário mais calmo. Eu que esperava encontrar muitos “santinhos” de vereadores nos chãos, dei de cara com um lugar limpo, calmo, ainda que cheio de comércios antigos, bem no centro de BH. Continuamos caminhando e chegamos às proximidades da rodoviária. Gradativamente, a sujeira vai aumentando nas calçadas. Na rua Guarani, o piso está mal feito, quebrado e atrapalha a caminhada. Na praça da rodoviária, há um fedor, escorre-se água (ou esgoto) em alguns pontos das ruas. Indo pela avenida dos Andradas, em direção ao portão de saída dos ônibus da rodoviária, a sujeira diminui. Nessa avenida há menos fluxo de pessoas, enquanto os automóveis andam em uma velocidade mais rápida e não podem estacionar no entorno da avenida. Deixamos a Andradas e viramos para a rua Oiapoque. A rua do mais famoso shopping popular de Belo Horizonte é suja e tem uma aparência marginalizada. Essa aparência mais carente de cores, de cuidado, com um tom mais de periferia e lugar de um parte da população que é excluída socialmente se repete na rua Guaicurus. O piso da rua é todo atrapalhado. Alguns momentos ele está inteiro, outros, totalmente quebrado. Há muitas motos estacionadas e cachorros dormindo na rua. Deixamos a rua Guaicurus e nos aproximamos do fim do nosso trajeto. A rua Rio de Janeiro é a que mais se destaca, aos meus olhos, em relação a sujeira. Enquanto o piso da rua está ótimo – devido as obras de revitalização – a imundice está presente lá. Finalmente me sinto em época de eleição e vejo milhares e milhares de santinhos de candidatos a vereador ou a prefeito espalhados no chão. Quando nos aproximamos do encontro da Rio de Janeiro com a Afonso Pena, o trecho só permite a passagem de pedestres, e é aí que se acentua a papelada no chão.
Esta é uma pequena cartografia do chão do centro de BH. É interessante perceber como que, à medida que nos aproximamos de lugares tratados socialmente como marginalizados – como a rodoviária e as ruas Oiapoque e Guaicurus – há uma sensação maior de que o extremo cuidado com a limpeza foi deixado um pouco de lado. Lá em cima, próximo a avenida Afonso Pena, um dos lugares de maior fluxo é bem mais limpo, como se a cada segundo um gari passasse para limpar. Isso só vai contra a regra, na rua Rio de Janeiro. O lugar se destaca por ser um espaço de sociabilidade, em que as pessoas podem sentar e conversar, sem se preocupar com os veículos, já que o encontro da Rio de Janeiro com a Afonso Pena é fechada para pedestres. Talvez esse seja um fator que aumente a produção de lixo, pois em lugares mais desertos, como a avenida dos Andradas, há quase nenhum papel no chão.
(*)Forma comum de se chamar membros e ex-membros do Projeto Manuelzão da UFMG no curso de comunicação.
METROpólis
Carolina Aparecida Ferreira de Melo
Vanessa Veiga de Oliveira
A linha amarela do metrô traz uma mensagem instituída. Tal como sinal de comando, aquele elemento nos impõe uma ordem disciplinar. Há claramente nessa modalidade de regulação um intento de diminuir os percalços da trajetória, em nome da proteção. No entanto, subvertendo sua própria lógica ao propor um desvio da atenção o traçado amarelo traz um novo tipo de instrução: o imperativo do consumo.
 O site da empresa responsável pelo transporte metroviário do Rio de Janeiro, a MetroRio, divulga o espaço de publicidade realizado na linha amarela. A função, à princípio, da linha amarela é advertir os passageiros sobre o espaço de segurança na plataforma para que não ocorram acidentes.
O site da empresa responsável pelo transporte metroviário do Rio de Janeiro, a MetroRio, divulga o espaço de publicidade realizado na linha amarela. A função, à princípio, da linha amarela é advertir os passageiros sobre o espaço de segurança na plataforma para que não ocorram acidentes.Acompanhamos a degradação do usuário em cliente, os coletivos permanecem como serviço público essencial dada a necessidade de locomoção nos grandes centros urbanos, mas delegada ao capital privado, o que restringe sua dimensão como direito. O passageiro do metrô oscila entre a figura de cidadão e consumidor e sem saber de fato qual é o seu papel tende ao conformismo. Até porque, a mercantilização do espaço e dos equipamentos é uma forma de controle. É dessa maneira que Janice argumenta como a atitude comercial publicitária camufla o potencial de resistência, de experimentação, de comunicação e de sociabilidade no metrô. Os anúncios, que se sobrepõe aos signos da cidades, criam novas diretrizes e contextos de interação, apreensão e intervenção, um tanto menos democráticos, libertários e espontâneos.
O esvaziamento da viagem: é essa a conseqüência mais perversa que a autora aponta. Não que o metrô deixe de se compor como um meio social heterogêneo que permite o encontro com o estranho, a passagem por vizinhanças descontínuas e a fuga pelo exercício subjetivo.
“No metrô pode-se desenvolver essa dimensão criadora da viagem – que está no horizonte da experiência urbana – e se o fará sempre na medida em que o aspecto do controle possa recuar em prol do uso”.
O metrô, quando entendido como bem comum, oferece possibilidades participativas e dialógicas. Porém, o viés excessivamente economicista, constrange a ação porque espera um sujeito espectador e, portanto, passivo. A mudança, então, está no objetivo principal da utilização do metrô: ele deixa de ser mais um meio de transporte – ao qual todo cidadão tem direito – e passa a ser o lugar do clientelismo, do emprego maciço de campanhas publicitárias que estimulam o consumo.
“É preciso garantir a relação de compra e venda naquele momento e no futuro, fazendo o passageiro levar consigo também a melhor imagem da empresa. É para um cliente que é preciso se dirigir nesses termos”.
As campanhas publicitárias realizadas pelo MetroRio possuem dois objetivos. A primeira diz respeito à propagandas de terceiros, como o exemplo da linha amarela. A emprea MetroRio disponibiliza em seu site todas as informações necessárias sobre o perfil do passageiro, a “audiência diária”(termo que a empresa usa para falar do número de usuários em média, que utilizam o metrô por dia) e sobre os tipos de propagandas que podem ser alocadas nos trens e plataformas. O outro tipo de campanha são as propagandas institucionais da própria empresa MetroRio. As campanhas de transporte se valem de todo o imaginário que circunda o metrô como símbolo de progresso, para reforçar a idéia de rapidez, segurança e eficiência. Contraditoriamente, é a superlotação que garante o sucesso do negócio. Tanto pela redução dos custos, como por tornar proveitosa a presença dos passageiros. É assim que o metrô se oferece como lugar de visibilidade e estende o consumo para além da sua própria estação.
http://www.ukdesign.com.br/video/portugues.htm
Vídeo institucional do MetroRio. A campanha institucional reafirma o imaginário urbano relacionado ao metrô.
A dubiedade do sistema de transporte parece conveniente a quem detém a propriedade e a gestão do transporte. Nesse caso, a aliança que se almeja não é política é uma parceria comercial efêmera entre um que compra e outro que vende.
Link para o site do MetroRio: http://www.metrorio.com.br/canais.asp
Link para o site do MetroBH: http://www.metrobh.gov.br/principal.asp
EM TEMPO
Começou no dia 29 de novembro, sexta-feira, a terceira edição do festival “BH Music Station”. Após sete anos, o projeto volta com eventos durante quatro sábados seguidos (29/11 e 6, 13 e 20/12) nas estações do metrô de Belo Horizonte. Funciona assim: a partir das 23h45, as estações Central, Santa Inês, Minas Shopping e Vilarinho se transformam simultaneamente em palcos para renomadas bandas nacionais, além de perfomances, esquetes teatrais, poesia e circo. A entrada para o evento é somente pela estação Central e a expectativa é de um público de 4 mil pessoas. De acordo com site do BH Music Station, “o projeto foi retomado pelos produtores Márcia Ribeiro, Gegê Lara e Dênio Albertini, com patrocínio das empresas de telefonia Claro e Embratel. A intenção é de que o evento entre para o calendário nacional das produções culturais”.
O que Janice Caiafa acharia do projeto? Bom, o novo uso do metrô tem um preço caro. Os ingressos são limitados por noite e custam 30 reais a meia entrada e 60 reais o ingresso inteiro. Eles são vendidos nas lojas Claro do BH Shopping, Shopping Cidade, Itaú Power Shopping, Minas Shopping e Loja Claro da Savassi. Um ingresso dá direito a assistir aos quatro shows realizados por noite. Veja abaixo a programação do evento para os próximos três sábados.
6 de dezembro (sábado)
* Palco Santa Inês
00h15 – Fino Coletivo
* Palco Minas Shopping
00h15 – The Dead Rocks
* Palco Vilarinho
00h30 – Teatro Mágico
2h – BossaCucaNova
13 de dezembro (sábado)
* Palco Santa Inês
00h15 – Marina De La Riva
* Palco Minas Shopping
00h15 – Tattá Spalla
* Palco Vilarinho
00h30 – Vander Lee e Lokua Kanza
2h – Tom Zé
20 de dezembro (sábado)
* Palco Santa Inês
00h15 – Marina Machado
* Palco Minas Shopping
00h15 – Erika Machado
* Palco Vilarinho
00h30 – Ana Cañas
2h – Móveis Coloniais de Acaju
3h30 – Jack Tequila
sábado, 29 de novembro de 2008
Metropolização e Cultura e Transformação Urbana

Ao analizar o processo de metropolização, a fim de a transformação estrutural das cidades, depara-se com quatro dimensões em que as mudanças ocorrem. O espaço urbano torna-se um local de consumo, lazer e turismo – musealização - em que as pessoas já não tem vínculos diretos com o ambiente dentro das necessidades diárias. A descentralização da estrutura é acompanhada da fragmentação e apropriação do espaço público pelos interesses privados, que irão entrar em conflito a fim de ganhar legitimidade e reconhecimento na esfera pública. O gerenciamento desse espaço vai ser dado por critérios econômicos e competitivos. Nessa perspectiva, depara-se com o que o Walter Prgide chama de “Cidades dentro da Cidade”.
“Com isso tornam-se obsoletos termos como vida periferia, campo, centro; seus objetivos e usas relações precisam ser redefinidos: não existe mais um modelo uniforme de desenvolvimento urbano; o “centro” e a “periferia” são igualmente fragmentos de uma estrutura do espaço regional que se tornou policêntrica”(pag. 57)
Essa nova forma de configuração do espaço urbano, vai resultar em uma outra dimensão da mudança, que é a periferização do espaço central, resultado dessa nova forma de relacionamento com os centros. A idéia de espaço de forma compacta e estrutura complexa, que abarcava todas os espaços fundamentais para as relações entre os indivíduos é modificada com o processo de suburbanização, em que é transferida as funções urbanas para áreas marginais rompe com a idéia da cidade como núcleo centralizado. No entanto, mostra-se necessário entender esse processo em seu caráter simultâneo de concentração, marcada tanto por um movimento centrípeto – direção a cidade como espaço comum as trajetórias - e centrífugo – dispersão e ocupação das áreas marginais.
Individualização da estrutura social também é destacada como dimensão do processo transformador das cidades. As variações nos estilos de vida dos indivíduos, fruto também da diversidade e flexibilidade cultural, mostra que as relações de uso e apropriação desse espaço serão direcionadas pelas necessidades do cada sujeito. Em relação a idéia de urbanidade, que deveria estar presente nas relações entre a cidades e os que com ela se relacionam, depara-se um três noções sobre o conceito, que buscam de alguma forma mostrar uma leitura atualizada sobre essa nova forma de interação com o espaço urbano na qual a cidade está inserida
URBANIDADE como:
Como algo produzível, enquanto esstratégia estética hegemônica
Pluralização das representações da individualidade através dos estilos de vida
Cultura de aceitação da diversidade e de integração de interesses opostos
Ainda sobre o processo de metropolização, é possível perceber a tendência da privatização e individualização dos eventos públicos no ambiente central ambiente central. Ocorrendo o que o autor chama de midialização da cultura. Cada indiviíduo
Passa a mostra uma espécie e percepção e apropriação daquele espaço. No entanto, é necessário entender que midializar não deve se constituir como uma prática de estrutura unidirecional, mas como espaço de interatividade como o espectador, de forma a transformá-lo em um produto público cultural, possibilitando o aproveitamento produtivo dos processos de midialização global, na cultural local.
A noção de “cidades-evento” de Prigge é retomada por Otília Arantes, a qual associa o termo às “cidades ocasionais”, citada por outro autor, Francesco Indovina. Otília atenta para o fato de que o ato de “fazer cidade” passou a ser concebido sob a perspectiva do lucro, diante de ocasiões que possam gerar negócios.
Em crítica a esse pensamento comum do urbanismo atual, e apropriando-se de referências teóricas de autores como Peter Hall e Molotch, ela atenta para o fato de que hoje, ao invés de se usar o planejamento urbano para corrigir os problemas das cidades, o mesmo está sendo exercido como um ato empreendedor. “O planejador foi se confundindo cada vez mais com o seu tradicional adversário, o empreendedor(...)” (p.81).
Originou-se uma grande obsessão pelo crescimento, em que autoridades visam colocar sua cidade em nível de competitividade global. Esquecendo-se do planejamento social e das necessidades reais da população da região, privilegiam o destaque internacional da cidade, para que ela seja constantemente procurada para novos investimentos.
Exemplos de tal situação não faltam. Na própria capital mineira tivemos há pouco a reforma do estádio Mineirão, para receber o jogo do Brasil contra a Argentina, em que foi utilizada grande quantidade de verbas, que poderia ser usada para corrigir problemas sociais mais graves. No Rio de Janeiro, o dispêndio com o Pan também foi assustador. Principalmente pelo fato de que os estádios sequer estão sendo utilizados, hoje, pela população.
Segundo a autora, para que essa máquina de crescimento seja colocada em prática, é necessário que exista um consenso entre a população. Para isso, criam-se “orgulhos cívicos” e “patriotismos de massa”, gerando uma falsa ilusão de que o negócio será benéfico para todas as partes. Falsa, pois, na maioria das vezes, quem acaba usufruindo desses benefícios é a menor parcela da população, ou seja, aqueles que já possuem condições para tanto. Mais um motivo de segregação e separação, principalmente em cidades de países como o Brasil, em que as diferenças sociais são gritantes.
Estamos vivendo em um período em que a cidade passou a ser gerida “não só like business, mas, antes, for business(...)” (p.66). Resta a pergunta: QUEM FAZ, PORTANTO, A CIDADE?
Post referente ao seminário apresetado em sala.
Grupo: Ana Cláudia Paschoal, Paula Santos, Phellipy Jacome e Ricardo Lopes
sexta-feira, 28 de novembro de 2008
Porque a língua Portuguêsa é tão difícil...
Outra coisa que eu queria dizer...foi muito legal aprender sobre comunicação e cultura de nível global. Uma pessoa podia ler sobre as opinião da perspectiva brasileira, mas nunca realmente tem em conta a complexidade de cada pessoa. Então, obrigada para isto.
Uma Cidade Dentro da Cidade: As Praças do Belo Horizonte
Primeiro, o trabalho no centro foi perfeita para mim, uma gringa, que ainda esta aprendendo as ruas no belo horizonte. Agora, tudo parece muito mais organizado com algumas conexão, posso fazer sentido com o fato que Belo Horizonte e a primeira cidade planejada no Brasil!
Onde eu moro em Chicago, não existe nenhum tipo de espaço verde lugar perto do centro, como aqui no centro do Belo Horizonte. No entanto, o que mais me intriga não é a idéia de ter um espaço verde no meio de um espaço metropolitano, é mais o uso dos mesmos. Todas as praça que a gente chegou na caminha da cidade—praça da Liberdade, Praça da Estação—estava cheio das pessoas conversando, comendo, cantando… durante o dia! Foi muito engraçada para ver. Parece que esse ponto de encontro neutro que é eternamente ativa. E acessível para todos na cidade. Eu nunca posso ver isto onde eu moro. Tudo e mais fechado. Claro que tem parque, mas com uma parque, você ainda tem o sentido de escapa. Com a praça, tudo e aberto, e o mundo pode ver você. Nao tem morro, só espaço indicado pelo cruzamento das ruas. Foi muito legal.
Claro que eu penso sobre o texto de Jane Jacobs; “ Morte e Vida de Grandes Cidades”.
Especialmente a parte sobre Los Angeles: “Los Angeles e um exemplo extremo de metrópole com vida publica escassa, que depende principalmente de uma natureza social mais privada. De um lado por exemplos, uma conhecida minha de lá comenta que apesar de viver na cidade a dez anos e saber que ha mexicanos entre os habitantes, ela nunca viu um mexicano ou uma peca de cultura mexicana, e muito menos trocou uma palavra com algum deles” (Jacobs, 76)



Talvez...Nova Opinião: Commentario Sobre o Texto de Canclini ("Diferentes, Desiguais e Desconectados")
Embora Canclini principalmente falou sobre a sociedade e cultura em esse nível macro, eu sinto que pode aplicar esses mesmos conceitos de interculturalidade ao discutir identidade individual dentro de uma cultura. Ele me chamou atenção com a idéia de apropriação cultural quando ele falou sobre os artesanato no México:
" Os objetos artesanais costumam produzir-se em grupos indígena ou camponês, circulam pela sociedade e apropriados por setores urbanos, turistas, brancos, não-indigenas, com outros perfis socioculturais, que lhes atribuem funções distintas daquelas para as quais fabricaram...Não ha por que argumentar que se perdeu o significado do objeto: tranformou-se. E etnocêntrico pensar que se degradou o sentido do artesanato. O que ocorreu foi que mudo de significado ao passar de um sistema cultura a outro, ao inserir-se em novas relacoes-sociais simbolicas" (Canclini, 42. Ele esta dizendo, para mim, e que não e e necessaro pensar tão cinicamente--que eu usualmente estou pensando.
Outra parte: "De um ponto de vista antropológico, não ha motivos para pensar que um uso seja mais ou menos legitimo do que o outro. Com todo o direito, cada grupo social muda significações e os uso. Neste ponto, as analises antropológicas precisam convergir com os estudos sobre comunicação, porque estamos falando de circulação de bens e mensagens, mudanças de significado, estamos falando da passagem de uma instancia para outra, de um grupo para vários"(Clanclini,43) Primeiro, após a leitura deste, nao acreditei; esta idéia de que a beleza e a originalidade de uma cultura pode ser mantida se outro - com mais freqüência que não - mais poderosos e privilegiados da cultura tira os valores e, em seguida, saiu o lugar.Em segundo lugar, eu pensei de Hip Hop em America-norte Afro-Americana, e da sua eventual apropriação por um mais poderoso America-norte Branca. A idéia de que algo que começou como um movimento artístico em ação de protesto contra os brancos americanas é, agora, emanado pela massa.
Clanclini diz que essa raiva e senso de propriedade que eu tenho com Hip Hop - uma cultura que começou nas ruas do sul do Bronx, New York, mas agora espalha tanto quanto subúrbios ricos da Califórnia e por todo lado entre – não e útil. A realidade e simplesmente que não perde seu sentido de vale. Ele se torna algo de novo.
Caroline Donia McCormack
quinta-feira, 27 de novembro de 2008
Comentário do texto “A cultura extraviada nas suas definições” de Nestor García Canclini
A partir dessa reflexão, indaga-se sobre quais são os principais significados atribuídos ao termo cultura utilizados nos dias atuais. Dentre elas, há aquela noção de cultura como um acúmulo de conhecimento e aptidões intelectuais e estéticas, uma elitização do termo. Há também uma noção científica da cultura, que visa estabelecer um sistema teórico determinado com o intuito de evitar conotações erradas da linguagem comum. Nessa corrente, pensa-se a cultura como aquilo criado pelo homem em contraposição com o “natural” que existe no mundo. Questiona-se também se cultura assim definida não se aproximaria de um sinônimo do conceito de formação social, em que a cultura é a forma que adota uma sociedade unificada pelos valores dominantes.
Tal maneira de se pensar cultura serviu para superar as formas primárias do etnocentrismo. Daí vem o relativismo cultural. Assim, sem hierarquia, as culturas se tornam incompatíveis e incomensuráveis.
Mas tarde são distinguidos tipos diferentes de valor na sociedade econômica: valor de signo e valor simbólico. Sendo o primeiro relacionado a um status adquirido por exemplo a uma geladeira que possui um design sofisticado em relação a uma geladeira comum. O segundo se relaciona a rituais ou atos particulares que ocorrem dentro de uma sociedade e relações de afeto atribuídos a objetos. Assim, fala-se também de valor de uso e valor de troca. Sendo o primeiro relacionado a aspectos subjetivos, ao valor simbólico, e o segundo mais ligado ao valor de signo, ao preço de determinado produto.
Me parece interessante a linha de pensamento que vê a cultura como “uma instância de conformação do consenso e da hegemonia, ou seja, de configuração da cultura política e também da legitimidade(...) Os recursos simbólicos e seus diversos modos de organização têm a ver com os modos de auto-representar-se e de representar os outros nas relações de diferença e desigualdade, ou seja, nomeando ou desconhecendo, valorizando ou desqualificando.”
Por fim, ao estudarmos culturas e no cenário urbano, buscamos entender os processos através dos quais grupos representam e intuem imaginariamente o social, estabelecem e organizam relação com outro, ordenam suas diferenças mediante o funcionamento da sociedade.
Caio Couto Pereira
Comentário do texto do seminário
Vida na Metrópole: Comunicação Visual e Intervenções Juvenis em São Paulo
Assim como foi discutido durante as aulas, o texto traz a reflexão da cidade como um espaço de experienciação, não somente como um espaço físico, que existe fluxo de indivíduos e produtos. As autoras refletem sobre a dinâmica desse espaço, as intervenção que os indivíduos performam ali e as ordens imaginárias que surgem desse cenário.
No caso específico desse texto, é evidenciada a prática de intervenção no espaço público realizadas por jovens que se apropriam dele e o reterritorializam. Jovens que visam ganhar visibilidade por meio de intervenções nas ruas, e que impulsionados pelas tecnologias de produção multimídia conseguem divulgar suas ações pela Internet, podendo assim serem visto não somente em uma instância local, por aqueles que passam pela cidade, mas por indivíduos de todo o mundo.
Outra relação importante descrita no texto é a da influência dessa cultura que emerge clandestina, mas que ganha reconhecimento pelos meios massivos, pelos grandes produtores e disseminadores de tendências, que por sua vez se apropriam dessas novas linguagens de rua e as incorporam como um produto da industria cultural.
É dada também grande importância à comunicação realizada por meio de pôsteres. Essa forma de expressão passa a constituir parte significativa da paisagem urbana por volta da década de 60. Circulando pela cidade pode-se perceber o tempo todo um mosaico de cores formado pelos mais diversos cartazes. Esse suporte comunica apelos estéticos, comerciais, políticos, entre outros. É mencionado com protestos estudantis se apropriaram de técnicas de impressão e começaram a produzir seus cartazes com base em seu engajamento político. Daí surge o faça-você-mesmo, que não somente propõe a liberdade de expressão, mas a contesta valores sociais convencionais. Essa atitude passa a ser denominada undergroud. Como eram produzidos periódicos, revistas com impressão de má qualidade, acabou se formando um estilo próprio desses movimentos, caracterizado por uma estética do ruído. Assim, nos anos 1970 o estilo punk nasce em Londres intimamente ligado a esses movimentos e leva-os as últimas conseqüências.
Outro aspecto salientado pelas autoras é a dificuldade de se criar um instrumento metodológico que seja eficiente para analisar essas manifestações juvenis que emergem nas ruas. A complexidade dos centros urbanos e a diversidade de apropriações realizadas ali formam um panorama difícil de ser investigado com rigor metodológico.
Por fim, as autores visam suscitar questões a respeito dos jovens no que tange as visões de mundo, o imaginário, a forma com que ocupam as cidade, as referências gráficas, linguagens e técnicas utilizadas por eles, os suportes que utilizam e como se dá a apropriação que fazem dos espaços públicos e privados.
Válquiria, Daniel e Caio Couto.
Belo Horizonte Music Station: deslocamento do uso/consumo do metrô

Quando soube que ocorreria a 2º edição do projeto Belo Horizonte Music Station (para quem não conferiu ainda, o site é http://www.bhmusicstation.com.br/) fiquei super empolgada. O projeto consiste na realização de shows nas Estações Central, Santa Inês, Minas Shopping e Vilarinho. Artistas e bandas como Arnaldo Antunes, Tom Zé, Nação Zumbi, Movéis Coloniais de Acaju se apresentarão durante a madrugada de quatro fins de semana e as pessoas poderão circular, através do metrô, de um show para outro. Também acontecerão performances, esquetes teatrais, poesia e circo.
Acho que o que mais atraiu na idéia do projeto foi a possibilidade de deslocamento inerente ao fato de se realizar no espaço dos metrôs e o ambiente das estacões, que relaciono sempre à algo meio obscuro, underground. Só relaciono, porque foi então que me dei conta de que nunca fui a um metrô em Belo Horizonte. É estranho pensar que foi preciso um evento para me levar a atentar para esse meio de transporte coletivo. Não por necessidade, mas por lazer é que vou conhecer o metrô de BH. E detalhe, quando mudei para cá, morava no Palmares, bem perto da Estação Minas Shopping e se tivesse criado o hábito de usar o metrô como meio de transporte, isso teria me evitado muitas horas de engarrafamento no deslocamento entre meu bairro e o centro da cidade, por exemplo.
Janice Caiafa destaca que o equipamento coletivo presta um serviço para coletividade, logo torna-se um equipamento de serviço. O ato de transportar-se através do metrô constitui uma forma de uso que suplanta o esquadrinhamento do controle. No entanto, ocorre um fenômeno central no regime da gestão privada dos equipamentos coletivos que desloca o uso para o consumo. Não se usa o metrô porque esse é um direito do usuário, mas o mesmo torna-se um cliente que compra o deslocamento.
A riqueza e pluralidade desse meio de transporte coletivo consistem nas possibilidades de processos comunicativos e sociabilidades que se desenvolvem a partir da experiência de se frequentar esse espaço. Segundo Caiafa, o transporte coletivo tem uma função de “dar fuga”, abrindo espaço para a variação dos processos subjetivos e uma comunicação da diferença. O transportar-se abre possibilidades para o contato e interação com pessoas desconhecidas, umas das marcas do meio urbano.
O projeto Belo Horizonte Music Station reapropria um espaço público configurado para atender as necessidades de deslocamento das pessoas no meio urbano e coloca-o como um espaço particular voltado para o lazer e cultura. A resignificação do espaço dos metrôs que se opera por meio desse deslocamento abre espaço para o estabelecimento de novos tipos de relacão entre os sujeitos que frequentarão esse espaço e entre os sujeitos e esse meio. Particularmente, achei ótima essa iniciativa, pois me instiga a idéia do movimento, da circulação de pessoas, do espaço do metrô ocupado durante a madrugada.
No entanto, fica a questão: para que público se volta esse projeto? Com um ingresso no valor de 60 reais a inteira, a maioria das pessoas que vai a esse evento é formada de individuos que mal utilizam esse transporte coletivo. A grande parte da população que frequenta os metrôs no seu dia a dia fica excluida dessa manifestação. Novamente, ocorre o deslocamento do uso para o consumo de um produto.
Paula Santos.
À procura da arte nos mapas
Com o tempo, essas representações foram deixadas à margem e passaram a ter importância secundária nos mapas. A realidade cotidiana daquele espaço ali representado deixou de ser incorporada a tal representação. As alegorias passaram a revelar apenas o interesse econômico e político do europeu em relação aos outros territórios.
Depois de ler o texto “Caminhadas pela Cidade”, de Michel de Certeau, no qual o autor critica a redução do caminhar, do trajeto, da experiência singular à traços em um papel, à mapas, fiquei pensando que essa mudança na forma de concepção e entendimento dos mapas pode ter ido mas além do que apenas a perda da beleza artística desses instrumentos cartográficos.
A não incorporação dos elementos do cotidiano nas representações do espaço faz com que esses ambientes percam vida. Os mapas existem por uma necessidade humana de visualizar os lugares. No entanto, não me parece coerente ignorar nessa visualização o próprio homem e suas ações, já que essas ações interferem constantemente na realidade dos espaços, atribuindo a eles novos significados.
Talvez falte um pouco do olhar artístico (ou melhor dizendo, do olhar crítico) dos renascentistas nos urbanistas contemporâneos, para que os traços dos mapas ganhem mais significação e o próprio espaço, mais identidade e identificação.
Postado por Júnea Casagrande
Samba do Criolo Doido
Talvez eu precise trabalhar mais a arte do “saber olhar”, ao invés de querer engolir o mundo com os olhos, ver tudo ao mesmo tempo. Talvez me falte foco (não no que se refere apenas à deriva cartográfica). Quem sabe seja déficit de atenção.
O fato é que andei por aquelas ruas do centro, anotando várias coisas, tentando aguçar meus sentidos, procurando algo incrível para olhar, e depois de quase duas horas sai de lá sem saber o que tinha me chamado mais atenção. As cores, os barulhos, os cheiros ou as pessoas?
Acho que toda essa miscelânea que me repelia, acabou por me atrair. Aos meus olhos, o que torna o centro tão peculiar é exatamente essa concentração de gente diferente, de discursos distintos, dos mais variados produtos. Lojas de roupa, açougues, cinemas pornôs, motéis, hotéis, escritórios, restaurantes, lojas de tecido, lanchonetes, lojas de eletrodomésticos. Uma coisa bem ao lado da outra. Executivos, toureiros, estudantes, velhos, jovens, homens, mulheres, pastores, eleitores, políticos. Todos caminhando lado a lado. Um carro passa tocado funk, outro toca trance na maior altura. Uma loja, para atrair (ou não) os clientes, coloca no som um sertanejo. Outra opta pelo axé. E tem também pop rock. Alguns falam no mega-fone, outros gritam no gógó mesmo. Prédios bem conservados, outros nem tanto. Edifícios altos ao lado de casas pequenas. Lojas amarelas, em frente a outras vermelhas, azuis e verdes.
Mesmo com as críticas feitas sobre a ação do sistema e a atuação urbanística que interferem nas possibilidades de vivência e experimentação dos indivíduos que habitam a cidade cotidianamente, acho que não tem como negar que o Centro é um lugar, de certa forma, democrático.
Pode não ter o mesmo espaço para todo mundo. Pode não ser tão fácil se apropriar, se manifestar e se fazer notar. Mas acho que de alguma forma, o centro de BH é um espaço no qual a ação social fala forte e alto. Um local em que os atores sociais conquistaram, e vem constantemente conquistando, como palco de suas expressões e anseios.
É... Posso falar que apesar da confusão, que inegavelmente existe, o exercício de alteridade intrínseco à experimentação do centro da cidade, de alguma maneira estranha, conseguiu me encantar.
Postado por Júnea Casagrande
"Fotógrafos viajantes, Mediação e Experiência"- Daniela Palmas
O artigo propõe a discussão do fazer fotográfico em torno de três tipos básicos deslocados: o turista, o correspondente e o exilado. As questões principais são:
- produzir fotografias é um ato passível de ser traduzido em experiência?
- é possível ao produtor de imagens experimentar o mundo através do visor de uma máquina?
- o fotógrafo viajante vivencia e faz história, experimenta o contato com o Outro ou simplesmente acumula percepções?
Segundo o artigo, fotografar é participar: “o ato de fotografar transfigura-se em acontecimento pois interfere em nosso sentido de localização, a presença da camera fotográfica nos faz perceber o tempo como um desfile de acontecimentos, dos quais estamos aptos a selecionar os que valem a pena serem fotografados(…) olhar através do visor jamais carrega a mesma passividade que um olhar direto, sem mediação tecnológica, pode ter”.
A fotografia como elemento definidor do olhar do turista.
“Uma vista de um cartão postal oferece um enquadramento prévio do local a ser visitado, sua função é direcionar os olhares dos turistas a uma certa experiência estética”.
Porém a realidade do local visitado muitas vezes não é “aceita” pela grande maioria dos turistas; diante das maravilhas da terra, as pessoas preferem que a câmera tenha a experiência por elas, também para possuirem um troféu para mostrarem para os amigos quando voltarem para casa.
Segundo o fotógrafo Christian Simonpietri, ao presenciar atrocidades, os correspondentes se refugiam por trás da câmera, “que nessas horas difíceis vira uma espécie de escudo. A gente desliga da vida, fica escondido e só vê com um olho, o outro fica fechado.”
Nessa relação, há porém uma experiência, já que o correspondente torna-se um espectador “privilegiado”, que nos transmite uma experiência que não poderia ser comprovada por nós. Os correspondentes sofrem entretanto duras críticas, sendo acusados de não intervir em situações terríveis; eles porém rebatem com o argumento: “quem registra não pode intervir”. Esse argumento pressupõe uma objetividade da fotografia do correspondente, esquecendo-se talvez que a realidade sempre se transforma com a presença de um registrador, havendo aí uma grande tensão entre o documental e o ficcional, o que é “encenado” para as câmeras e o que espelha a realidade como ela é.
Palmas utiliza o exemplo de Hans Gunter Flieg (que veio para São Paulo em 1939), cujas fotografias agregam a modernidade e a antiguidade, passado e presente em harmonia dinâmica. Flieg congraça tempos: os edifícios históricos, são apresentados como componentes urbanos que fazem parted a dinâmica da cidade: “o agora da modernidade ganha relevo histórico”.
O exilado, como “ser descontínuo”, que perdeu sua historicidade do país de origem, se esvazia de sentido. Ao conseguir congregar o antes e o agora em uma experiência que não se restringe à tempos, ele começa do marco zero, se definindo novamente como ser humano histórico.
A experiência do fotógrafo pode ser então assim definida:
“olhar o Outro pela fotografia: experiência situada fora do sujeito nas práticas do turismo commercial de mass, inexperenciável nas imagens de choque do fotojornalismo e enraizante na trajetória de um fotógrafo exilado”.
Lene Andino
Caroline McCormack
Nathália Mendes
Deriva - Estratégias e Táticas
O centro talvez seja o lugar mais privilegiado da cidade para se observar como o poder público tenta controlar e ordenar o fluxo de pessoas e veículos através das estratégias. Placas, letreiros luminosos, semáforos, faixas para pedestre, tudo isso tenta regular e manipular as mais variadas as ações. No entanto, o modo como os sujeitos se apropriam da cidade é diverso e, por vezes, imprevisível. "Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Ai vai caçar. Cria ali as surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia".
Phellipy Jácome
quarta-feira, 26 de novembro de 2008
Paisagens sonoras do comércio popular:
uma perspectiva para os estudos do som nos espaços urbanos
Pedro Silva Marra
Já no começo do texto, o autor chama a atenção para a escassez de pesquisas em comunicação e culturas urbanas que se preocupem com o som. Certamente pela profusão e evidência dos estímulos visuais e textuais da cidade, são poucos os estudos que buscam compreender as relações entre as mensagens sonoras presentes no espaço urbano.
E o trabalho de Pedro Marra está justamente inserido na pesquisa Cartografia de Sentidos, que busca entender os usos e as apropriações do centro de Belo Horizonte por meio dos estímulos sensórios e cogntivos que atingem a cada habitante da cidade de maneira singular.
Para o artigo que apresentamos, o autor estudo o caso empírico dos pregoeiros, que anunciam produtos e serviços no centro de BH.
É interessante perceber como os pregões fazem parte de um ritmo que é intrínseco a cada rua da cidade,cada uma com sua própria lógica, de transeuntes ou trânsito mais ou menos elevados, onde as sonoras frases dos pregões tentam se harmonizar com a batida estabelecida por outros elementos. É essa propriedade do som de compor ambientes que dá origem ao termo Paisagem Sonora,também citado no texto. Nesse sentido, aproximamos um pouco mais a visão ("paisagem") da audição ("sonora") quando entendemos que o som é o que nos dá a noção de tridimensionalidade. O ambiente é feito de som.
O grupo sugere que primeiro o som seja escutado e, num segundo momento, o vídeo seja visto. O objetivo é desafiar o ouvinte para o reconhecimento dos lugares apenas pela informação auditiva.
Postagem individual - Ronei Silva Sampaio
Em seu texto Caminhadas pela cidade, Certeau argumenta que quem sobe a grandes altitudes, como o World Trade Center, e é arrebatado pela sensação de onisciência e foge da massa triturante que solapa a identidade de autores e espectadores. Esse é o ponto de vista panóptico, uma das conformações estratégicas que figura do lado da superação do tempo em prol do lugar e da dominação do poder de saber (ações que dizem do planejamento urbano estratégicos)
A cidade vista de cima é apontada por Certeau como um simulacro teórico, ou seja, como um conceito que opera sobre a condição do esquecimento ou desconhecimento das práticas. Para o autor, é embaixo onde vivem os praticantes cotidianos da cidade. Eles falam e, acima de tudo, andam. É nesse movimento que eles constroem um texto urbano que não pode ser lido.
A reivindicação de Certeau acerca da consideração do lugar das práticas o aproxima de Hauser, crítico de arte, e de suas queixas quanto ao classicismo. A partir de um outro ponto de vista, este autor critica o classicismo por representar as figuras humanas através de conceitos, expressões vazias e abstratas que poderiam ser de qualquer um, gestos insossos que não correspondiam à potência do gestual humano. Cada um ao seu modo, Certeau e Hauser criticam o afastamento das concepções teóricas e artística do terreno da praxis, da ação dos indivíduos no mundo, de sua existência concreta.
O objetivo de Certeau é detectar práticas que fogem ao modo de ver panóptico, teórico, do planejamento. “Essas práticas do espaço remetem a uma forma específica de ‘operações’ (‘maneiras de fazer’), a uma “outra espacialidade’(uma experiência antropológica, poética e mítica do espaço) e a uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada.” (CERTEAU, 1994, p. 172). Desta forma, o autor fala de uma cidade metafórica, transumante, como constituindo um outro texto que parece rolar sobre o texto claro da cidade planejada e visível.
Neste contexto, o autor aborda uma atividade comum nas cidades, o andar: a partir da metáfora do andar como um ato de enunciação, Certeau afirma que o andar é o elemento que constitui a própria cidade, que a reinventa. Ao caminhar, os indivíduos constituem caminhos novos, atalhos, reanimam espaços, condenam outros ao esquecimento. O andar é, desta forma, descontínuo, presente e fático. É descontínuo porque atualiza, de maneira não incerta, lugares, cria interdições e novas possibilidades. É presente porque diz da apropriação presente do sistema de enunciação e é fático porque confere certa organicidade a lugares e condena outros ao esquecimento.
Para concluir essa reflexão, sugiro três imagens: a primeira é de Atget, fotógrafo francês do surrealismo que, durante o século XIX produziu imagens de uma Paris vazia, habitada apenas pelos monumentos e pelas duras linhas que deles emergiam. O outro é Luciano Costa, fotógrafo contemporâneo que retratou Paris de maneira diferente de Atget, uma cidade animada. Ao que parece, Atget poderia traduzir em imagens o que seria uma cidade como Paris vista de um plano panóptico (ainda que o ângulo não seja o de cima). Já as imagens de Luciano poderiam exemplificar o registro das práticas, das intervenções no mundo, da recriação do cotidiano.
Atget
Imaginarios urbanos e Imaginación Urbana
Imaginarios urbanos e Imaginación Urbana
Razones de um malestar
O estudo dos imaginários e da imaginação é espaço para um conflito: enquanto que os imaginários urbanos são a reflexão cultural sobre as mais diversas formas em que as sociedades se representam nas cidades, constroem seus modos de comunicação e seus códigos de compreensão da vida urbana. A imaginação urbana trata da dimensão técno-política, feita geralmente por um corpo especializado de profissionais, acerca de como a cidade deve ser. O mal-estar decorre do conflito entre esses dois elementos. Ele é justificado no fato de que os estudos sobre imaginários urbanos são requisitados aos planejadores urbanos como meio de se produzir políticas públicas.
Gorelik descreve o contexto de produção intelectual sócio-urbano na América Latina, na convergência de diversas disciplinas como modo de abordagem de problemas tipicamente urbanos.
O autor aponta o nascimento dos estudos culturais urbanos na América Latina em três autores, durante a década de 70: Angel Rama, Jose Luis Romero e Richard Morse. Em suas primeiras definições de cultura, segundo o autor, imaginário e imaginação se mesclavam, formando parte de um mesmo desafio intelectual e político. A primeira definição de um possível campo de estudos culturais urbanos latino-americanos nasceu no mesmo período em que várias concepções que o basearam começavam a extinguir-se. Tal contexto, descrito pelo autor, foi não apenas de mudanças na cultura acadêmica, mas também de profundas transformações nas cidades latino-americanas.
Cartografias Urbanas
O autor propõe abordar os estudos culturais urbanos através de uma metáfora cartográfica. Ele aponta dois textos inaugurais da disciplina: A Invenção do Cotidiano, de Michel de Certeau (1980), e O Pós-modernismo como lógica cultural do capitalismo tardio, de Frederic Jameson (1983). Jameson, influenciado pelos estudos de Kevin Lynch (A Imagem da Cidade), por sua vez influenciado pelo trabalho de Edward Hall, sobre antropologia do espaço. A principal idéia promovida por este diálogo é a de recuperação do sentido de pertencimento dos habitantes urbanos através de uma reconquista do sentido de lugar. Outro autor citado por Gorelik, que deu grande contribuição aos estudos urbanos foi Michel Foucault, principalmente por suas reflexões sobre as reconsiderações culturais da cidade. A contribuição de Foucault para os estudos urbanos significou uma mudança na concepção de urbano, através da mescla de matrizes estruturalistas e fenomenológicas. Nesta perspectiva, a cidade pode ser compreendida como um espaço heterogêneo, socialmente produzido por uma trama de relações, onde ocorre a materialização da dinâmica das práticas sociais. É desta perspectiva que vai emergir os trabalhos de Certeau e Jameson.
Segundo Certeau, há um contraponto, na história da cartografia, ao discurso científico moderno. Trata-se da representação simbólica do espaço medieval, que o autor procura recuperá-la nos relatos espontâneos do uso da cidade. Ao processo descrito por ele, de autonomização dos mapas, ocorrido entre os séculos XV e XVIII, houve um progressivo desaparecimento dos itinerários escritos, inclusive nos mapas portuários, considerados, assim, como marcas empíricas produzidas pela observação dos navegantes. Para o autor, o plano moderno foi imposto a estes mapas, o que significou o triunfo da geometria abstrata do discurso científico frente ao sistema narrativo da experiência de viagem. Foi a supremacia da visão objetivista da realidade que inaugurou a representação em perspectiva, a compreensão moderna de um espaço-tempo homogêneo e matemático. A representação “perspectivista” do espaço inaugurou a transformação do feito urbano em conceito de cidade, de tal modo que substituiu a realidade com sua imagem planimétrica, imagem antes que não estava acessível às pessoas. Para fugir desta visão perspectivista, Certeau indica o nível do solo, onde se encontram os praticantes ordinários da cidade.
Para Jameson, a evolução cartográfica é um dos pontos mais avançados da história do progresso científico, permitindo a ascensão de uma forma cultural nova, que teve profunda repercussão nos estudos urbanos. Ele cita o exemplo dos mapas cognitivos, amparado nas idéias de Kevin Lynchy e Edward Hall: o sentido de pertencer dos habitantes das cidades se daria através de uma reconquista do sentido de lugar. Sua concepção de mapa cognitivo é considerada uma chave da cultura urbana pós-moderna: o traçado dos mapas cognitivos proporcionaria ao sujeito individual um novo e mais elevado sentido de lugar que ocupa no sistema global.
El fin del gran relato o el gran relato del fin
Tendo em vista as abordagens de Certeau e Jameson, Adrián Gorelik propõe duas questões. A primeira diz respeito à irregularidade da evolução dos estudos culturais urbanos na América Latina. Segundo Gorelik, correntemente se observa a produção de uma ampla variedade de trabalhos a respeito do tema no continente latino-americano que possuem um caráter hibrido, em cujo interior convivem visões opostas, simultaneamente de caráter pós-moderno e anti-moderno, por exemplo. A segunda questão para Gorelik é a seguinte: qual o efeito do imaginário acadêmico sobre o conhecimento da cidade? A resposta ou diagnóstico que este propõe é que a cidade de maneira geral perdeu a ilusão de projeto, a “cidade conceito” deu lugar à “cidade real”, que só pode ser conhecida quando rompidas as barreiras da homogeneidade social e cultural. A percepção de que são os técnicos que sabem das necessidades da cidade é com isso rechaçada, dando lugar à visão do técnico como um facilitador, aquele que remove os obstáculos para que a sociedade possa decidir o que é melhor para si.
Um problema que se coloca para Gorelik, no entanto, é como se dá a dinâmica quando o pensamento técnico apropria-se das críticas pós-modernas na elaboração e justificação de seus projetos. Ainda que não ofereça uma resposta definitiva para esta indagação, o autor afirma que a postura fundamental daquele que pretende pensar e transformar a cidade é a do reconhecimento de seu caráter essencialmente caótico. Talvez este esforço dos técnicos em aproximarem-se do discurso pós-moderno reflita justamente uma tentativa de conciliação com este caos.
Ainda com relação a esta dimensão do conflito entre os imaginários urbanos e a imaginação urbana, Gorelik aponta que o imbricamento destas instâncias tem levado a elaboração de novo mitos a respeito da elaboração de políticas municipais, com ênfase ao valor identitário das intervenções bem como uma vaga apelação cultural que tenta incluir de maneira artificial as comunidades no processo de modificação das metrópoles. O autor cita como exemplo as políticas de “preservação” ou “resgate cultural”, que seriam na verdade um esforço de estetização dos guetos. Tal exemplo remete ao caso da intervenção governamental no Pelourinho, em Salvador/BA, citado durante uma das aulas de Comunicação e Culturas Urbanas. Mais uma vez conforme Gorelik, o que se observa nestes casos é uma alocação destes espaços urbanos visando propiciar o consumo turístico, com ênfase no estímulo da economia urbana e levando a realocação da população.
Uma verdadeira democratização dos espaços urbanos, afirma Gorelik citando Canclini, deve sustentar que se refaça o mapa, o sentido global da sociabilidade urbana. Não basta que os planejadores se apropriem irrefletidamente das ponderações dos imaginários urbanos.
“A crise da cidade se acompanhou de uma crise das idéias para pensá-la (...)” (GORELIK, p. 278).
Relatório do texto Sobre Sujetividades Diaspóricas e Ardis Cotidianos, de João Maia e Juliana Krapp
O texto de Maia e Krapp trata, em síntese, de algumas das apropriações e dos fluxos culturais feitos por uma população originalmente marginal, e conclui que essas ressignificações contribuem com a reivindicação de uma cidadania cultural. Para chegar a essa conclusão os autores observaram algumas atividades na Favela da Candelária, depositando mais atenções para a produção a partir de redes de tecnologia (mais especificamente, a partir das lan-houses).
A idéia principal é a de que um sujeito colocado à margem da sociedade e que, portanto, tenha sido obrigado a morar em alguma favela em condições básicas precárias reivindique seu espaço não só na sua comunidade, mas também, e principalmente, na cidade como um todo, fazendo dessa cidade seu “campo” dentro do qual promove fluxos comunicacionais, apropriações e ressignificações diversas. Das várias portas e janelas que se abrem para o sujeito desconexo “dar” e “receber”, a tecnologia é a que carrega o maior potencial. Nós do grupo, porém, acreditamos que a parcela desse potencial que tem sido utilizada é mínima (em termos, principalmente, qualitativos, mas também quantitativos): um marginalizado ter orkut e o acessar quase todos os dias não garante que esteja havendo uma reivindicação de espaço, nem um consumo produtivo e ativo, ao contrário, a utilização acrítica e bestial desse tipo de ferramenta (assim como o msn e o youtube) não vai muito além de uma reprodução também acrítica e bestial de uma ideologia de classe dominante que quer, cada vez mais, unificar e universalizar falsas e inúteis necessidades e vontades.
Que qualquer um possa, a R$1,00, ter acesso à internet perto de casa é, sem dúvida, um grande avanço, e longe de nós querer contradizer isso. Mas esse avanço, em relação à totalidade dos fenômenos culturais, sociais e econômicos mais amplos, é bem tímido. E o pior é que causa, em muitos jovens da periferia, por exemplo, uma ilusão de inclusão, de igualdade, de distribuição equânime de oportunidades e de perspectivas futuras em relação aos jovens da classe média que também utilizam a internet com os mesmos fins triviais.
abertura forumdoc.bh.2008

Olás,
Convido todos vocês para a sessão de abertura do forumdoc.bh.2008, amanhã, 27/11/08, 20h. Com o filme Crioulo Doido, de Carlos Prates Correia.
Nosso site com toda a programação está no www.filmesdequintal.com.br
E segue uma das duas vinhetas, tudo a ver com este blog http://br.youtube.com/watch?v=0Gdsp00y9HE&eurl=http://www.filmesdequintal.com.br/forumdoc2008/apresenta.html
Intervenções Juvenis Urbanas (Seminário)
Ela começa por recuperar como o interculturalismo crescente nos dias de hoje transformou e transforma as relações sociais, as identidades e comportamentos em uma metrópole. As cidades não são mais cenários homogêneos, onde apenas pessoas com idéias e repertórios simbólicos mais ou menos semelhantes convivem. Em tempos de cultura globalizada e desterritorializada, vive-se uma tensão entre modelos opostos de laços sociais. De um lado a tradição, os vínculos de bairro e vizinhança; de outro a ruptura, redes imaterias, laços difusos. Velocidade e lentidão, o local e o mercadológico.
Entre todo tipo de pessoas que ocupam e circulam pelas ruas e bairros dessa cidade múltipla e cindida, os jovens se destacam pela suas formas peculiares e mais visíveis de apropriação e práticas de uso dos espaços públicos.
Foi Benjamin quem primeiro percebeu a força que as culturas de rua vinham ganhando com o as concentrações urbanas, enquanto as técnicas industriais se aprimoravam e se difundiam. A reprodutibilidade que essas técnicas trouxeram permitiu que as produções gráficas se multiplicassem com rapidez, e se espalhassem pelos cenários das metrópoles. Na mesma esteira dessas mudanças, o imaginário popular passa a incorporar as imagens e os produtos culturais da cultura de massa.
Com as guerras mundiais, a proliferação de cartazes e pôsteres de propaganda confirmou esses meios como formas potentes de alcance popular e afirmação de idéias. Todas as turbulências e novidades da década de 60 – Vietnã, protestos, revolução cubana, música e drogas – deram um impulso ainda maior ao uso de pôsteres e cartazes pelos muros da cidade. Surgia a cultura Underground, contra o Establishment
O idealismo e a psicodelia foram se transfigurando, mas a cultura jovem, a contestação e a resistência ao consumismo passivo não deixaram de gritar seus slogans e defender sua busca por uma identidade autêntica, através das diversas manifestações que haviam aflorado e ganhado as ruas com a geração de 60.
Nos anos 80, surge o Hip Hop, que, além de música nova, trazia também novas roupas, novas formas de comportamento e intervenções nas paisagens urbanas. O grafiti vai aparecer nos becos de Nova York e se tornar a expressão gráfica do Hip Hop
Numa concepção mais ampla de cultura, entendida como práticas culturais que organizam a vida cotidiana, bem como o lugar do enfrentamento, onde aparecem as relações de poder, a cultura de rua e as intervenções juvenis serão formas privilegiadas para se analisar e buscar entender a lógica dessa resistência.
O estudo das culturas jovens de rua demanda uma nova metodologia, que possa articular e interpretar conjuntamente as práticas materializadas pelas ruas e os discursos que dão significado coletivo a essas mesmas, da mesma forma diferenciando qual deles se filia a esta ou àquela manifestação.
Primeiro, é preciso entender que os jovens têm uma relação particular e variada com as ruas e a cidade. É preciso mapear por onde passam esses jovens, em seus fluxos que se misturam a outros fluxos, nas correntezas urbanas. Aonde e como eles vão se socializar, quais são seus referenciais de identidade, suas linguagens, seu comportamento.
Conhecer os locais por onde os jovens passam e fazem suas apropriações - tanto materiais, quanto apenas presenciais, em grupo-, para então reter essas manifestações efêmeras, em fotos que vão resistir ao tempo. Isso vai tornar possível a comparação no tempo e no espaço, à partir desse histórico acúmulo de registros. Então será possível decifrar, o que dizem os jovens, como eles dizem e como ocupam a cidade.
Nova investigação pode surgir daí, articulando cidade e culturas juvenis, numa perspectiva de cidade fragmentada, mas que pode ser apropriada e tomada para si, pelos diferentes grupos.
Daniel Bayão
A cidade é a mensagem.E o meio também.

A princípio pode parecer um trocadilho bobo,com um quase clichê nos estudos da comunicação. Mas a frase de Mcluhan consegue em sua simplicidade dar conta de valorizar o que a Milene diz dos diálogos públicos no artigo Diálogos Públicos de Belo Horizonte: os Processo Comunicativos e a Diversidade de Tempos, Espaços e Práticas Culturais.
Ao analisar as inscrições presentes no centro de BH, é possível perceber a potencialidade que representação das mensagens, pichações, grafittis e stikers têm de dar conta da experiência de quem por ali passou e deixou seu registro, e a partir dele pode re-significar aquele espaço urbano – (des)territorialização. Andar pela cidade e prestar-se aos registros presentes nela é um processo de entendimento e relacionamento com aquele ambiente de forma menos superficial e mais intensa. A abordagem sobre os objetos pela proposta de Certau em analisar as relações
sociais a partir do entendimento de cultura como práticas vivenciadas no cotidiano.
Legal ou não, marginal ou agressivo, as pichações dão conta do conflito, do choque e de toda a diversidade que marca a interculturalidade a sociedade urbana, cujo escopo é integrado de vozes e discursos que se mostram presentes no meio-cidade.
Por Ricardo Augusto Lopes
“As imagens e a cidades vão bem juntas”
Em seu texto, Wenders cita de maneira recorrente a cidade de Tóquio, como sendo esta uma cidade que em meio ao ruído urbano conserva ilhas de tranqüilidade. E essa observação me levou a dois vídeos (ambos disponíveis somente em inglês, infelizmente).
O primeiro é um trecho do documentário de Wenders, “Tókio-Ga” (1985), sobre o cineasta Yasujiro Ozu (Pai e Filha). Neste trecho (http://www.youtube.com/watch?v=rx3fvyWRQjE) Wenders conversa com o também cineasta alemão Werner Herzog (O Homem Urso) a respeito da pureza das imagens, observando Tókio do alto de uma torre. Para Herzog, restam poucas imagens para serem descobertas em meio às construções de uma grande cidade. Imagens adequadas, para Herzog, seriam aquelas em sintonia com a civilização, que ressonam o que há de mais profundo em nós.
O segundo vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=tZNJyogkAEw) é um trecho de um documentário britânico a respeito de Pequim. Neste trecho é tratada a intervenção urbana que precedeu as Olimpíadas e a maneira pela qual os centenários distritos e ruas tradicionais da cidade (hutongs) forçosamente vem dando lugar a novas estradas e modernos edifícios. À maneira das illhas de Wenders.
João Paulo Carvalho